O que vem depois da década dos grandes protestos

Protesto em Hong Kong, no início de dezembro de 2019 (Foto: Danish Siddiqui/Reuters)
Deixemos de lado a discussão sobre se a década termina em 2019 ou só no final de 2020. Para todos os efeitos, já é possível apontar as principais tendências dos anos 10 do século XXI — e tentar imaginar que impacto terão nos anos 20 que se avizinham.
A primeira década do século foi marcada pela Guerra ao Terror e pelas tensões do que se convencionou chamar de "choque de civilizações". O combate ao terrorismo islâmico justificou intervenções militares sob a desculpa de promover a democracia em alguns lugares (Iraque) e o apoio redobrado ou a tolerância a ditaduras em outros (Arábia Saudita e China, por exemplo).
A Guerra ao Terror focou na questão militar e das alianças políticas (as nações foram divididas entre aquelas que apoiavam o terrorismo e as que os combatiam), mas negligenciou a bomba populacional econômica e social nos países muçulmanos, tanto no Oriente Médio quanto na África e na Ásia.
Esse contexto represou descontentamentos que explodiram em 2011, com a chamada Primavera Árabe, a onda de protestos populares que começou na Tunísia e se espalhou por outros países árabes e não-árabes do Norte da África e do Oriente Médio.
A Primavera Árabe não tencionava simplesmente a troca de governos, mas alterar profundamente as estruturas de poder. Começou como um movimento secular, mas foi cooptada por grupos fundamentalistas — o que acabou por justificar o retorno de regimes ditatoriais, como ocorreu no Egito, onde o ditador Hosni Mubarak deu lugar a uma pseudodemocracia islâmica, rapidamente substituída por uma nova ditadura militar.
A Primavera Árabe também resultou em guerras civis longevas, como as da Síria, da Líbia e do Iêmen, países que terão que lidar com as consequências desses conflitos e da destruição do seu tecido social pelas próximas décadas.
E impactou o mundo todo em duas frentes: a primeira, com o surgimento do mais apocalíptico dos grupos terroristas islâmicos, o Estado Islâmico (EI ou Isis), que avançou no vácuo do poder na Síria e no Iraque e que patrocinou ou inspirou atentados em diversos países do Ocidente; a segunda, com a maior onda de refugiados desde a II Guerra Mundial, formada por centenas de milhares de pessoas que tentavam escapar da fome e da guerra, vindas principalmente da África, do Oriente Médio e da Ásia.
Não é possível entender o Brexit, o voto pela saída do Reino Unido da União Europeia, e a ascensão de líderes nacionalistas na Europa e nos Estados Unidos sem levar em conta esses dois subprodutos da Primavera Árabe: a ameaça do Estado Islâmico e a onda de refugiados.
Mas a influência da Primavera Árabe vai além.
Em maio de 2013, a repressão violenta da polícia a um protesto contra a destruição de um parque em Istambul, na Turquia, foi a fagulha para protestos mais amplos contra o governo de Recep Erdogan, que vinha endurecendo o regime na tentativa de manter seu país incólume dos ventos da rebeldia que sopravam dos vizinhos árabes.
A Primavera Árabe influenciou os protestos na Turquia. E os protestos na Turquia, por mais distantes que pudessem parecer, deram ímpeto às manifestações gigantescas no Brasil, no mesmo ano. As motivações eram diferentes em muitos pontos, mas quando as Jornadas de Junho começaram por aqui, as imagens de milhões de turcos de classe média se manifestando pacificamente ainda dominavam o noticiário brasileiro.
Em ambos os países, os manifestantes tinham pelo menos uma coisa em comum: a indignação com a corrupção da classe política e a sensação de não estarem sendo representados nas decisões do poder.
Os protestos no Brasil se metamorfosearam ao longo da década. O país do futebol protestou contra a maior festa do futebol, celebrada em seu solo. Por fim, em 2016, as ruas pressionaram pelo impeachment de uma presidente.
Mas a impaciência das ruas também se fez sentir em muitas outras partes do globo.
O governo chinês foi um dos que mais se preocuparam com o efeito dominó iniciado pela Primavera Árabe, pois entendeu imediatamente que algo parecido poderia ocorrer em seu território. A política externa do país nos anos que se seguiram, as críticas aos Estados Unidos por abandonar velhos aliados no Oriente Médio e o endurecimento do controle sobre grupos étnicos e sobre dissidentes políticos de dentro da China são provas dessa preocupação.
Mas nem Pequim escapou da sanha das ruas. Depois do Brasil, foi a vez de Hong Kong, em 2014, ser tomado por um movimento de rua. A "revolta do guarda-chuva", liderada por estudantes secundaristas, opunha-se às tentativas de Pequim de tirar aos poucos a liberdade política da população local (a ilha desfruta de uma autonomia tênue desde que foi devolvido pelos ingleses à China, em 1997).
Em 2019, os moradores de Hong Kong voltaram a desafiar as autoridades e a paciência de Pequim, dessa vez contra a tentativa de aprovar uma lei que facilitaria a extradição de cidadãos locais.
Ao longo da década, grandes protestos pipocaram por muitos outros países, incluindo, mais recentemente, no Chile, no Equador, na Bolívia, na Venezuela…
Da Tunísia ao Chile — por diferentes motivos, com graus distintos de fúria e de repressão e tendo como pano de fundo tanto ditaduras quanto democracias —, o que marcou o espírito dos protestos foi a crise da representatividade política.
A mesma crise de representatividade que levou ao poder, em diversos países, governantes que se apresentaram como outsiders, não pertencentes à elite política estabelecida.
O que ocorrer na próxima década será um desdobramento desse cenário. As ruas continuarão vivas — em ebulição em alguns países, adormecidas em outros, mas sempre prontas para voltar a serem palcos de grandes manifestações de descontentamento.
Haverá um momento na próxima década em que muitos dos tais outsiders cairão em desgraça, mesmo mantendo um núcleo fiel de apoiadores, e se tornarão o próximo alvo da fúria de manifestantes, de batedores de panelas, de militantes digitais.
Acreditava-se que as redes sociais substituiriam a participação política efetiva, mas não foi o que aconteceu. Na realidade, elas potencializaram os espaços de participação, a rua entre eles.
A cacofonia das redes, replicada nos protestos de rua (como os que se viu nas Jornadas de Junho, no Brasil), tende a trucidar novos ídolos com a mesma velocidade com que os cria.
Assim será a década prestes a começar.


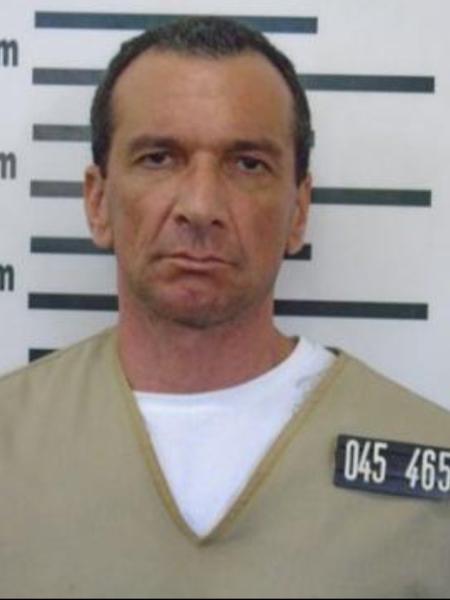


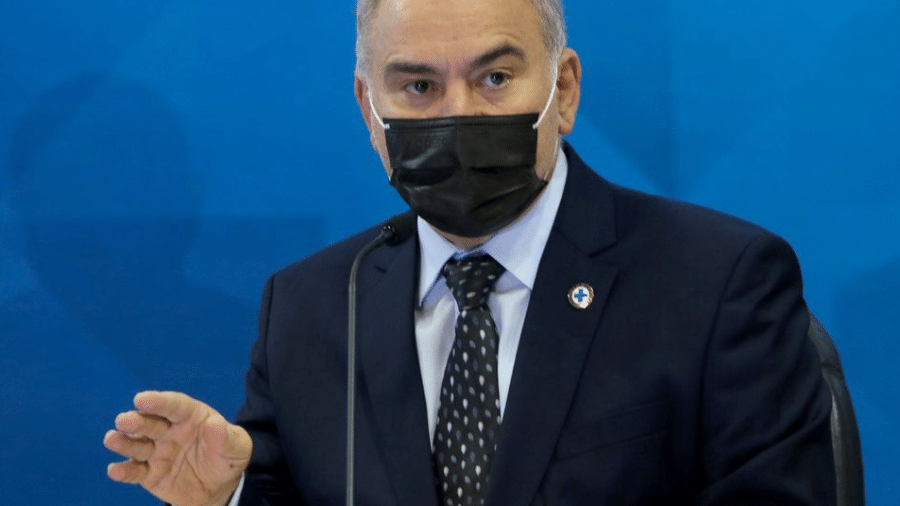







ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.