Se Obama fosse presidente, seria criticado por morte de general iraniano?

O presidente americano Donald Trump e seu antecessor, Barack Obama (Fotos: Nicholas Kamm/AFP e Larry Downing/Reuters)
Se o presidente que deu a ordem para executar, com um ataque aéreo, o general iraniano Qassem Soleimani fosse o democrata Barack Obama, e não Donald Trump, estaria sendo tão criticado pela decisão? Suspeito que não.
Há pouco mais de dez anos, em outubro de 2009, o então presidente americano Barack Obama foi anunciado como vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Foi um reconhecimento antecipado ao que se supunha que o político democrata faria para acabar com as guerras em que seu país se vira envolvido na gestão anterior, de George W. Bush.
Progressistas do mundo todo ficaram maravilhados com a escolha. Alguns anos depois, porém, o secretário do comitê do Nobel da Paz, Geir Lundestad, deu a entender que dar a honraria a Obama havia sido um erro. Ele disse que foi um prêmio de incentivo, mas Obama não cumpriu as expectativas.
Obama ganhou o Nobel da Paz por suas palavras bonitas, inspiradoras, sobre um mundo mais justo e menos bélico. Mas a realidade da administração Obama foi muito diferente do discurso.
Quando ele desembarcou em Oslo, na Noruega, para receber o prêmio, havia acabado de autorizar o envio de mais 30.000 soldados para o Afeganistão.
Sob Obama, uma nova guerra começou no Oriente Médio, a do Iêmen, que já matou 200.000 pessoas, das quais 85.000 crianças que sucumbiram de fome. Tudo regado a armas e consultoria militar dos americanos.
Foi Obama, também, quem ampliou o uso de drones para matar inimigos com bombardeios cirúrgicos, os chamados "targeted killings". Dessa forma, o presidente democrata criou o arcabouço tecnológico e moral do qual Trump se valeu esta semana para autorizar o assassinato de Soleimani.
Ao longo dos oito anos de Obama na Casa Branca, as forças americanas realizaram 563 ataques aéreos com o intuito de matar inimigos escolhidos a dedo, a maioria com drones, no Paquistão, na Somália e no Iêmen — dez vezes mais do que no governo Bush. Estima-se que mais de 800 civis morreram nesses ataques.
As críticas ao programa de drones de Obama, porém, restringiam-se quase sempre àquelas feitas por organizações de defesa dos direitos humanos. Não havia grandes manifestações de indignação como se vê agora contra Trump no episódio do assassinato de Soleimani.
Soleimani era o chefe de uma organização que patrocinava o terrorismo ao redor do mundo e tinha milhares de mortes de inocentes nas costas. Não é exagero dizer que ele era mais perigoso do que o terrorista Osama Bin Laden quando este foi morto por forças especiais americanas em 2011, sob ordens de Barack Obama. Pouca gente questionou o então presidente por mandar matar um dos homens mais sanguinários do século.
Isso não significa que a decisão de Trump de mandar matar Soleimani e o comandante iraquiano Abu Mahdi al-Muhandis não deva ser questionada. É possível fazer isso sem incorrer na demagogia de dizer que Trump não pode sair por aí eliminando terroristas, se isso foi feito durante oito anos por Obama sem ninguém reclamar.
Não se trata de defender os assassinatos com drones — que sempre acabam deixando um saldo de mortes de civis mais alto do que de mortes de criminosos. O método é, por esse motivo, moralmente condenável.
Trata-se de ter coerência quando se questiona os Estados Unidos pelo assassinato de um inimigo.
A crítica mais consistente que se pode fazer a Trump é que há um risco geopolítico considerável na decisão de matar um dos homens mais poderosos do Irã.
Os aiatolás prometem vingança — e ela provavelmente virá com uma estratégia muito difícil de ser derrotada com meios militares comuns. O maior trunfo do Irã é sua capacidade de incendiar o Oriente Médio e de afetar os preços do petróleo sem trazer a guerra para dentro de casa.
Bush e Obama já se viram confrontados com o dilema de matar Soleimani. Para os estrategistas do primeiro, não era uma boa relação custo-benefício. Para Obama, isso ia contra os seus esforços para conter o programa nuclear iraniano por meio de um acordo com o país — o que não o impediu de se engajar em guerras por procuração contra o Irã, como ocorreu no Iêmen.
Do ponto de vista estratégico, Trump fez uma jogada arriscada. Mas Soleimani não era nenhum santo. Ao mandar eliminá-lo, Trump não fez nada diferente do que inúmeros presidentes americanos antes dele já fizeram.
Siga-me no Twitter (@DiogoSchelp) e no Facebook (@ds.diogoschelp)




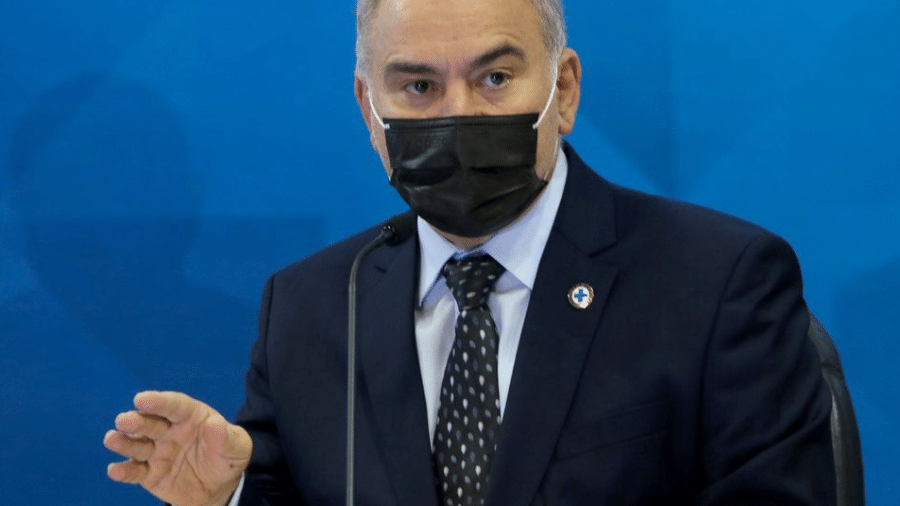







ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.